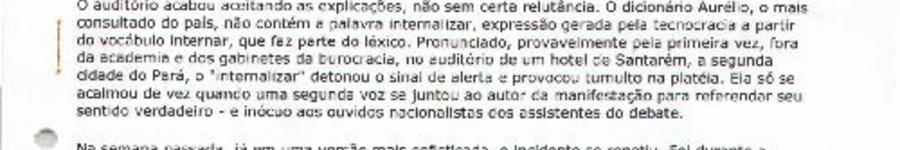Agência Estado
Autor: PINTO, Lúcio Flávio
03 de Dez de 2002
Internacionalizar ou o quê?
É preciso atrair o mundo para dentro da Amazônia, dialogando com ele, mesmo que o diálogo seja áspero e desigual
Data: 03/12/2002 Autor: Lúcio Flávio Pinto
Belém - Na metade da década de 70, durante um debate sobre o planejamento do desenvolvimento na Amazônia, um técnico interveio para dizer que o grande problema da ocupação da região era não internalizar os seus efeitos. Alguém na platéia se levantou e protestou, indignado. Como patriota que era, não podia aceitar a internacionalização da Amazônia. A região tinha que continuar a ser brasileira.
Com os devidos panos quentes, o técnico explicou que havia se referido a internalização, não a internacionalização. Uma expressão diz justamente o oposto da outra. Ao invés de promover a repatriação das riquezas da Amazônia, vendendo-as como matérias-primas de baixo valor num mercado espoliador, como vinha fazendo o modelo de integração econômica adotado pelo governo federal, sua proposta visava utilizar o capital estrangeiro e nacional, atraídos para a região, num esquema capaz de gerar efeitos nela mesmo, agregando-lhe valor adicional. Só assim a Amazônia poderia realmente se desenvolver e não apenas crescer economicamente, como vinha acontecendo, condenando-a a ter prejuízo permanente nas suas desiguais relações de troca.
O auditório acabou aceitando as explicações, não sem certa relutância. O dicionário Aurélio, o mais consultado do país, não contém a palavra internalizar, expressão gerada pela tecnocracia a partir do vocábulo internar, que faz parte do léxico. Pronunciado, provavelmente pela primeira vez, fora da academia e dos gabinetes da burocracia, no auditório de um hotel de Santarém, a segunda cidade do Pará, o "internalizar" detonou o sinal de alerta e provocou tumulto na platéia. Ela só se acalmou de vez quando uma segunda voz se juntou ao autor da manifestação para referendar seu sentido verdadeiro - e inócuo aos ouvidos nacionalistas dos assistentes do debate.
Na semana passada, já em uma versão mais sofisticada, o incidente se repetiu. Foi durante a sessão de encerramento da 3a Conferência Mundial e 7o Congresso Brasileiro de Jornalismo Científico, realizados em São José dos Campos, São Paulo. A confusão desta vez não foi de palavras, ainda que não dicionarizadas, mas de interpretação. Como um dos debatedores na mesa, disse que a Amazônia só conseguirá escapar ao destino colonial que lhe impõe o modelo de sua ocupação econômica, ainda o mesmo que estava em vigor na década de 70, apesar de tantas mudanças de governo (e até de regime) desde então, se conseguir contrapor, ao fluxo de capital estrangeiro, a torrente da solidariedade do conhecimento mundial.
Acrescentei também meu ceticismo quanto à capacidade de o Estado nacional ser a matriz ou o árbitro de uma relação equânime entre a Amazônia, que possui dois terços do território brasileiro, mas detém os piores índices de desenvolvimento humano do país, e as demais unidades da federação, particularmente as mais ricas. Lamentei que o então presidente José Sarney (um híbrido nordestino-amazônico), ao transformar o Congresso ordinário em Assembléia Nacional Constituinte (ao invés de convocar eleições para a escolha de uma constituinte originária), tenha imposto aos parlamentares-constituintes, como cláusula pétrea, o princípio federativo. "Seria uma boa oportunidade para tentar uma forma de organização política diferente para um país tão grande e desigual como o Brasil, assegurando o reconhecimento da excepcionalidade de sua maior fronteira", acrescentei.
Foi o bastante para que pessoas do auditório cobrassem do debatedor maior clareza. Afinal, era a favor ou não da internacionalização da Amazônia? Se era, desde logo se tornava merecedor da repulsa dos patriotas brasileiros, que continuam a defender, hic et nunc, a soberania nacional na distante mas desejada região. Piratas estrangeiros que quiserem usurpá-la enfrentarão a reação nacional. Os adesistas, também.
Antes de detalhar meu raciocínio, fiz questão de destacar que me orgulhava de ser brasileiro e queria que a Amazônia permanecesse igualmente brasileira. Mas não via futuro para minha região no quadro existente das relações de poder nacional, que ecoam em uníssono a relação metropolitana (ou metropolitanas, para ser mais exato). A voz da região não é ouvida. Sua identidade é ignorada, assim como sua história, suas aspirações e até sua realidade física, geográfica, esmagada que tem sido por um típico modelo colonial. Como entender sua integração à comunidade nacional, tendo como marca maior a destruição do seu principal elemento de vida, que é a floresta? E como aceitar uma doutrina que subordina as conquistas civis do regime democrático à tutela da segurança nacional, por um critério geopolítico destituído de significado prático efetivo?
Nova muralha da China
A Amazônia não pode ser isolada por uma nova muralha da China, nem pode ficar sujeita a um estado de beligerância não declarada (mas efetiva), a pretexto de que suas riquezas estão sendo monitoradas por satélites estrangeiros a partir do espaço, seus recursos saqueados por piratas desenvoltos em terra, seu território violado por ONGs que mal disfarçam seus objetivos reais ou por narcotraficantes que estão ferindo de morte a gestão estatal da sociedade.
Por causa desse falso problema criou-se uma falsa solução, como essa, de 1,4 bilhão de dólares (a conta de partida, ainda não a de chegada), do Projeto Sivam, que subordina (e dilui) o necessário incremento do orçamento de ciência e tecnologia da região (que representa 2%, no máximo, do todo nacional) a uma matriz e metas geopolíticas e militares. É a predominância da teoria conspirativa, que, na sombra das suspeições, anatematiza o que não vê e vê o que não existe. Espionagem existe, biopirataria é praticada, os narcotraficantes internacionais transitam pela região, há ONGs como fachadas de negócios, mas a saída não é fechar a Amazônia como uma Albânia verde-amarela (ou mesmo vermelha). A saída é plantar na cabeça dos amazônidas - e dos brasileiros - a semente do melhor conhecimento. Essa é a salvaguarda eficaz da Amazônia: saber sobre si mesma mais do que qualquer outro, em qualquer parte do globo.
Isto, no momento, é mera pretensão, se é que chega a ser um propósito de ação. Todos os dias centros de geração de conhecimento em vários pontos do planeta recebem mais e melhores informações sobre a Amazônia do que os da região e do Brasil. Não porque tenham melhores espiões ou sejam geneticamente superiores. Mas porque gastam infinitamente mais com educação, tecnologia e ciência. Até mesmo porque estão mais presentes na Amazônia, conhecendo-a mais intimamente do que nós, graças a bem organizadas expedições às linhas de frente e uma sofisticada retaguarda de processamento, que lhes possibilitam economizar tempo e multiplicar ganhos. Assim, selecionam alvos melhores e chegam aos objetivos bem antes de nós.
Com esse background, os agentes produtivos têm conseguido partir do zero para o 80, no vasto interior amazônico, com notável sucesso, como se pode verificar em duas commodities, o minério de ferro e o alumínio primário. Na Amazônia, o Japão se supre de 15% de suas necessidades dessas duas matérias-primas, a um preço invejável, apesar da distância de 20 mil quilômetros entre a mina ou o centro de fundição do metal e o mercado consumidor. No caso do alumínio, os japoneses conseguiram fechar todas as suas fábricas, responsáveis por 1,2 milhão de toneladas, sem sofrer desabastecimento ou preços mais altos. Muito pelo contrário.
Se o fluxo de um capital espoliativo, mesmo sendo intenso (mais de 15 bilhões de dólares foram investidos em apenas seis "grandes projetos" amazônicos), tem feito o desenvolvimento da região se assemelhar ao crescimento do rabo de cavalo, que cresce para baixo (relativamente falando, é claro), o fluxo do conhecimento pode reverter essa tendência. Ela deu no que deu em outras fronteiras mundiais de recursos naturais no passado, como as da África e da Ásia. Se possui 15% de todas as drenagens fluviais do planeta, a Amazônia tem que sediar o melhor conhecimento mundial sobre águas, deslocando-o de onde se encontra, na Holanda ou no Canadá. A Amazônia abriga um terço das florestas tropicais da Terra, mas os estudantes da região continuam a receber mais informações sobre florestas temperadas e a se doutorar em países que encerraram o que estamos tristemente empenhados em executar no momento: a dizimação da mata nativa.
Caixas pretas
É preciso atrair o mundo para dentro da Amazônia, dialogando com ele, mesmo que seja áspero e desigual o diálogo, ao menos por enquanto. Precisamos afiar a nossa interlocução para que esse encontro não continue a se reduzir a uma relação de troianos cercados com cavalos gregos de madeira, que escondem em seu ventre oco o inimigo sagaz. Ou, na linguagem atual, uma sucessão de caixas pretas.
No período imediato à Segunda Guerra Mundial, antes que a Guerra Fria se instalasse, dispusemos de uma conjuntura internacional favorável a um diálogo respeitoso e produtivo no âmbito da Unesco. Mas enquanto Paulo Carneiro concebia em Paris um Instituto da Hiléia Amazônica que poderia ser o laboratório de uma ciência comprometida com a melhoria do patrimônio humano na região, no Brasil um político mineiro, no contrapé da história, liderava uma reação emocional, baseada em jargões e frases feitas, inspirado na boa intenção do nacionalismo, mas levitando no do desconhecimento específico sobre a história e a geografia da região defendida.
No turbilhão das incompreensões, o tempo foi passando e a Guerra Fria, com seus guerreiros furiosos, engoliu aquela bolha de possibilidades. Desde então, a ciência tem sido comprimida por exigências de respostas comerciais e políticas. Isso não quer dizer, entretanto, que será sempre assim. Mesmo que assim venha a ser, tentar o contrário é uma utopia necessária. Uma, aliás, das que está faltando experimentar antes que o desfecho dessa ocupação acelerada e irracional seja incorporar a Amazônia ao destino de todos os povos coloniais do passado.
Não se avançará se, em relação aos desafios do diálogo da região com o mundo, a reação continuar a ser a de um nacionalismo retórico e formalista. Como aquele de um quarto de século atrás, quando o projeto pecuário da Volkswagen ficou retido na hoje extinta Sudam (Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia) devido a um mal-entendido vocabular. Um militar da reserva, representando o Ministério dos Transportes, se recusou a aprovar a liberação de poupança nacional para o empreendimento porque seu controle acionário pertencia a uma empresa alemã, a Volkswagen AG. Verificado o erro, provavelmente datilográfico, o parecer foi modificado naquele ponto específico de implicância. Onde se lia Volkswagen AG, passou-se a ler Volkswagen S/A.
Atendida a soberania nacional, o projeto foi finalmente aprovado, com a colaboração financeira da renúncia fiscal da União representando 75% do investimento total da fazenda. O final é que não foi feliz: a Volkswagen fez o maior incêndio (de 9 mil hectares) em floresta que um satélite havia detectado até então, no primeiro de uma sucessão de erros que acabariam levando a multinacional alemã a desistir da primeira experiência em que deixara de montar veículos automotores, sua especialidade incontestável, para montar bois. Isso porque estava na rude e selvagem Amazônia e não em terras alemãs. A Volks se foi, por seus próprios erros. Mas nem por isso a Amazônia melhorou. Para melhorar, tem que experimentar o melhor.
Lúcio Flávio Pinto é jornalista.
Agência Estado, 03/12/2002
As notícias aqui publicadas são pesquisadas diariamente em diferentes fontes e transcritas tal qual apresentadas em seu canal de origem. O Instituto Socioambiental não se responsabiliza pelas opiniões ou erros publicados nestes textos. Caso você encontre alguma inconsistência nas notícias, por favor, entre em contato diretamente com a fonte.